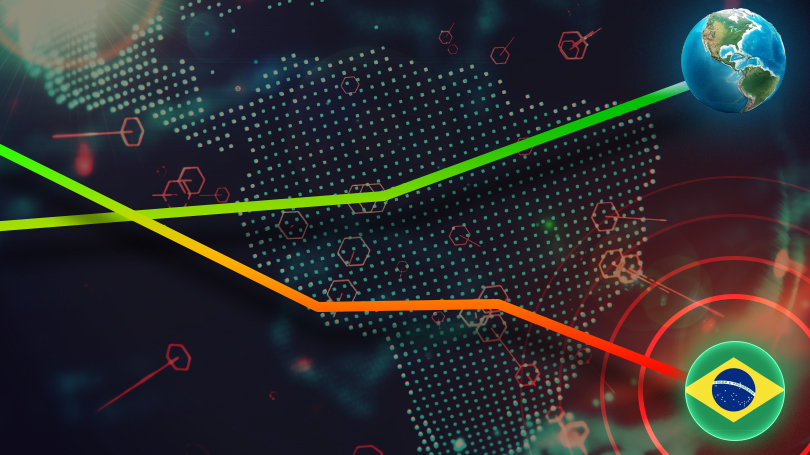Uma avaliação corrente é que, por não resolver os seus problemas estruturais, o Brasil tem ficado preso na armadilha da renda média, motivo pelo qual não consegue avançar em direção ao grupo dos países desenvolvidos. Porém, mais do que isso, segundo o economista Armando Castelar Pinheiro, coordenador do Ibref/FGV, estaríamos caminhando para deixar de ser um país de renda média e voltar a ser um país pobre. Ele baseia a projeção em dados de evolução do PIB per capita entre 1985, ano da redemocratização, e 2018: crescimento de 3,4% ao ano na média das nações em desenvolvimento, 1,6% ao ano dos países ricos, 1,2% ao ano da América Latina, excluindo o Brasil, e apenas 0,9% ao ano aqui. Atribui o problema ao atraso nas reformas, o que comprometeu os investimentos e a produtividade.
A falta de ajustes, por sua vez, viria do modelo político adotado, o presidencialismo de coalizão, consequência de uma multiplicação de partidos estimulada pela Constituição de 1988. Não se forma no Congresso uma maioria estável em torno de um projeto de governo, e sim maiorias pontuais a partir de adequação de pautas e da distribuição de recursos que garantam a sobrevivência política de deputados e senadores. Isso teria levado à má alocação dos recursos no país, a pautas-bomba, ao crescimento indisciplinado do gasto público, ao baixo investimento e à baixa produtividade e, por fim, ao pouco crescimento. Sem que aos partidos políticos seja atribuída qualquer responsabilidade por isso, seja por seus atos no Congresso, ou por seus membros que ocupam cargos no governo. Partidos que têm muitos direitos, poucas obrigações e nenhuma responsabilidade. Algo a ser avaliado na reforma política.
As consequências desse modelo estão à vista, como demonstrado no relatório contábil do Tesouro Nacional de 2018. Os passivos da União (principalmente dívida pública federal, de R$ 5,7 trilhões, e déficit atuarial de R$ 1,346 trilhão na Previdência dos servidores públicos) superaram os ativos (caixa da União, créditos, participações em estatais e imóveis) em R$ 2,416 trilhões. No balanço de uma empresa, esse seria o patrimônio líquido negativo. Lembrando que temos a mais alta carga tributária entre os países em desenvolvimento, quase nenhum investimento público – que constrói as bases para o crescimento do país – e serviços públicos precários. Quer dizer, o governo cobra muito, devolve pouco à sociedade e, mesmo assim, as contas públicas estão muito no vermelho. A máquina pública passou a ser um fim em si mesma, a servir-se do público e não mais a servir o público. Porque o governo gasta muito e gasta mal. Mas também porque a Constituição de 1988 engessou o orçamento público, com gastos obrigatórios que já consomem mais de 90% do total.
Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, atualmente, toda a receita líquida do Tesouro (depois das transferências para estados e municípios) está destinada a pagar as despesas obrigatórias. Isso significa que para fazer investimento público e até para o custeio da máquina é preciso aumentar a dívida do governo. Para fazer superávit primário, que permitiria reduzir a dívida pública, não existe outro caminho que não reduzir gastos obrigatórios. Portanto, não faz nenhum sentido flexibilizar o teto dos gastos. Significaria potencializar o problema.
O secretário comenta, em artigo publicado recentemente, que no Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2020, o Congresso Nacional passará meses discutindo como alocar apenas 7% do orçamento de 2020, uma vez que os demais 93% são despesas obrigatórias predefinidas pela Constituição e leis complementares e ordinárias. Apenas 2% da despesa primária do governo federal será destinada a investimentos em 2020 e 98% serão gastos com pessoal e custeio, na grande maioria despesas obrigatórias. Mansueto diz que o baixo nível de investimento não provém do teto dos gastos e sim do excessivo crescimento das despesas obrigatórias, das muitas vinculações e da elevada indexação do orçamento, o que aponta para a urgência de uma reforma administrativa. As alternativas, diz, são o aumento da carga tributária ou da inflação. O que significaria transferir mais uma vez a conta para a sociedade.
Para que o rabo pare de abanar o cachorro, o governo deve prosseguir com as propostas de ajuste fiscal, de desburocratização, de modernização de normas, de aumento de eficiência do gasto público e o Congresso Nacional, os partidos políticos e o Poder Judiciário devem entender a responsabilidade que têm e o muito que podem contribuir para construirmos um país desenvolvido.
Publicado no Jornal O Estado de Minas.