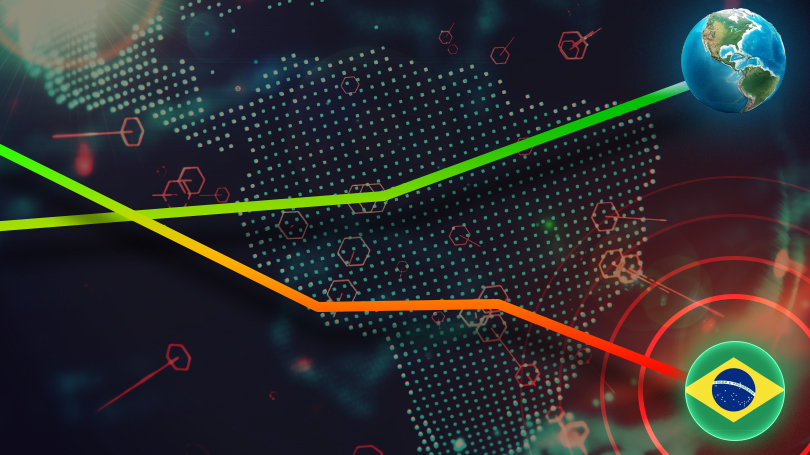Voltou à cena a reforma tributária. Pela enésima vez. Em ocasiões anteriores, quando a sociedade pressionava por menos impostos, a resposta dos governos era de aumento de tributos, para conseguir pagar as contas públicas. Tivemos, assim, nos últimos 20 anos, um processo constante e crescente de transferência de recursos da sociedade para o poder público, visando cobrir gastos ineficientes, catapultando a carga tributária de 25% do PIB para 35%. E, lamentavelmente, quanto mais arrecadava, menos o Estado conseguia devolver ao contribuinte. Os investimentos do governo minguaram e os serviços públicos dispensam comentários. Os recursos foram ficando pelo caminho da má gestão, da corrupção, de uma máquina pública inchada, refém do corporativismo, que acabou esquecendo da sua função primeira que é servir à sociedade. E os bons servidores, aqueles que literalmente têm o espírito de servir, discordam dessas distorções tanto quanto todos nós.
Sempre que governos enfrentam crises fiscais, como hoje no Brasil e em vários estados do País, a primeira tentativa de solução passa pela transferência da conta para a sociedade, via aumento de impostos. No Brasil isso ficou mais difícil porque a carga chegou a um nível tal que está asfixiando as famílias, que para consumir precisam endividar-se, e também as empresas, que não conseguem mais investir o suficiente para fazer a economia reagir com a intensidade necessária à absorção de uma multidão de desempregados. Além do que, experiências de outros países mostram que reformas focadas em cortes de gastos, a exemplo da Espanha e Irlanda, têm levado a recuperações econômicas mais robustas do que as que optaram pelo aumento de tributos, como a italiana.
Em nosso país, todos pagam impostos demais, especialmente a população, que destina maior parcela da sua renda ao consumo, e que, por isso, deve ser a primeira a se beneficiar quando a maior eficiência da gestão pública permitir uma redução da carga tributária. Da mesma forma, olhando os agentes econômicos, a indústria de transformação, que, representando hoje não mais do que 11% do PIB, recolhe ainda algo como 30% dos tributos federais.
A reforma tributária que precisamos deve simplificar a complicadíssima estrutura de impostos que temos no País, com mais de 60 tributos e uma centena de obrigações acessórias, e que, segundo a Confederação Nacional da Indústria, obriga as empresas a seguir quase quatro mil normas e estar atentas a uma média de 30 novas regras tributárias editadas diariamente. E que, a partir do encaminhamento do ajuste fiscal, estabeleça um plano de redução gradativa dos impostos, inicialmente para as camadas menos favorecidas da população e depois para as empresas, permitindo-lhes retomar o papel de protagonistas de um crescimento econômico acelerado e consistente.